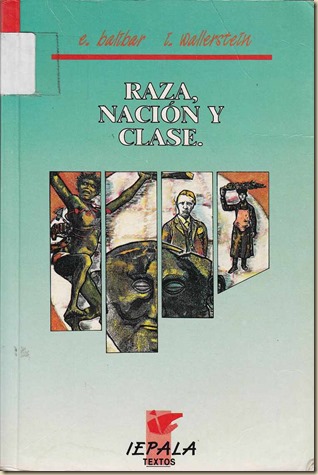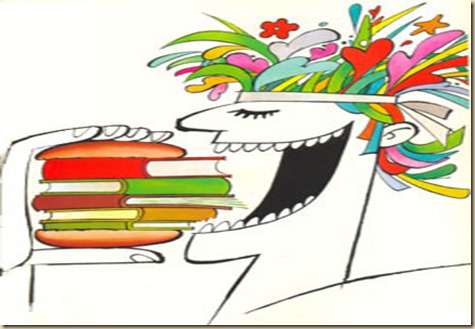A estética da multidão. Entrevista especial com Barbara Szaniecki
O livro A estética da multidão de Barbara Szaniecki, recém publicado pela Editora Civilização Brasileira, usando o conceito de multidão de Antonio Negri e Michael Hardt, estuda a prática da produção de cartazes políticos. “Como o poder se representa? Quais são as fórmulas que usa em sua representação? É possível distinguir elementos que se mantém constantes ao longo da história? E a resistência ao poder usa os mesmos códigos? Usa outros? Quais? Foram essas entre outras as questões que nortearam a minha pesquisa”, afirma a pesquisadora. “O meu interesse era investigar o cartaz político contemporâneo, numa concepção ampla: cartazes tradicionais mas também cartazes de internet e, sobretudo, as imagens políticas que colorem as manifestações globais, como aquelas contra a guerra do Iraque”.
A IHU On-Line conversou, por e-mail, com Barbara. Na entrevista ela fala da sua pesquisa.
Barbara Szaniecki é formada em Design pela École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, na França. Atualmente, é doutoranda no Departamento de Artes e Design da PUC-Rio.
Confira a entrevista.
IHU On-Line – A arte normalmente é concebida por apenas um indivíduo. No entanto, você traz uma nova percepção: a arte a partir de uma multidão, seguindo as teses de Antonio Negri e Michael Hardt. Mesmo com essa nova percepção, é possível que cada arte seja vista e interpretada individualmente?
Barbara Szaniecki – Na realidade, para dizer que a Arte sempre foi concebida por apenas um indivíduo, temos que voltar um pouco atrás no tempo. Percebemos, então, que essa visão seja talvez equivocada. Na Idade Média, por exemplo, os artistas trabalhavam junto com os operários na construção da Catedral, onde se concentravam as obras de arte daqueles tempos. A distinção entre uns e outros era às vezes irrelevante. Na Renascença, também era muito tênue a diferença técnica entre o mestre e os seus discípulos. Muitas vezes, a única diferença residia na capacidade do mestre de arranjar contratos e não em alguma capacidade metafísica de produzir o Belo. De modo que essa concepção de que a Arte é concebida por um indivíduo isolado não é confirmada. A Arte, como todo saber humano, é produzido coletivamente. O que acontece é que, em determinado momento da história, passamos a produzir sob um sistema capitalista, e a esse interessa que a obra “pertença” a alguém porque isso pode, por exemplo, facilitar a sua própria comercialização. É mais fácil para o capital capturar o autor individualizado do que enfrentar uma autoria coletiva. Cria-se então a figura do autor, e nasce a obra como fruto de um trabalho individual. Mas é uma criação com forte conotação ideológica, proprietária. Hoje essa autoria individual é questionada pelos movimentos sociais, não apenas os artísticos. A questão da autoria, dos direitos autorais, é uma das questões mais importantes dos movimentos para a democratização dos saberes, verbais e visuais, pois, à medida que a autoria passa a ser vista como coletiva, os saberes passam a ser de todos e não propriedade de grandes empresas.
IHU On-Line – Como a arte, produzida pelas multidões, pode ser vista através de suas singularidades?
Barbara Szaniecki – Hardt e Negri têm o mérito de evidenciar esse caráter coletivo da produção dos saberes, entre as quais podemos situar a Arte, embora eles não se debruçassem sobre esse campo específico. Evidentemente, eles não são os únicos autores que se interessaram por essa questão da dimensão coletiva da produção humana em geral. Não devemos, contudo, pensar que, no coletivo, o singular desapareça, se dilua. Muito pelo contrário: é no coletivo, é no embate entre as diferenças que as singularidades vão se manifestar. Em muitas experiências históricas, dentro e fora do campo da Arte, o coletivo via como único modo de se consolidar o estabelecimento de projetos que servissem de modelo para cada comportamento individual. Esses projetos muitas vezes liquidavam as diferenças individuais, uniformizavam gostos, homogeneizavam saberes, ou seja, constituíam uma unidade, uma totalidade que abafava as diferenças. Esses projetos totalitários se beneficiaram dos modernos veículos de comunicação de massa.
Nos coletivos contemporâneos, sejam eles artísticos ou não, o que se procura é o comum. Ou seja, cada um traz seu ponto de vista, sua experiência, sua diferença, mas o coletivo se dá no encontro do comum entre as singularidades. O que procuro verificar no meu livro é se esse comum, essa cooperação social contemporânea, tem uma expressão estética particular. É uma tentativa bem arriscada. Procuro nas definições de Negri, no campo político e no campo social, algumas chaves para interpretar formas estéticas “comuns”. Um exemplo que ajuda a “visualizar” o que eu estou dizendo é aquele da bandeira da multidão, muito visível nas manifestações contra a guerra do Iraque. Trata-se de um arco-íris que interpreto como uma forma que não é multinacional (ou seja, não é a bandeira de um conjunto de nações) mas como uma forma transnacional, ou seja de uma preocupação comum (a guerra) que atravessa as nações. Não se trata de uma soma, mas de um atravessamento. O repúdio à guerra do Iraque não soma as nações num projeto de totalização, mas atravessa essas nações num processo de constituição do comum. O comum que propõe Negri e Hardt vai além das representações nacionais. Esse comum é a um outro processo de globalização, uma globalização “por baixo”, feita pelos movimentos. Processo de globalização democrático, multitudinário, do qual procurei apreender algumas expressões estéticas.
IHU On-Line – A arte ainda é classificada, como barroca, contemporânea etc. A partir do conceito de “estética da multidão” é possível, ainda, classificar a arte?
Barbara Szaniecki – É muito importante enfatizar que o livro A estética da multidão não é exatamente um livro sobre Arte. Analiso imagens políticas de feitio e suportes diferentes sem entrar no mérito se essas imagens são ou não são artísticas. Para ser direta, meu interesse não era de classificar essas imagens, mas de nelas verificar representações de poder e de resistência. Como o poder se representa? Quais são as fórmulas que usa em sua representação? É possível distinguir elementos que se mantém constantes ao longo da história? E a resistência ao poder usa os mesmos códigos? Usa outros? Quais? Foram essas entre outras as questões que nortearam a minha pesquisa. O meu interesse era investigar o cartaz político contemporâneo, numa concepção ampla: cartazes tradicionais mas também cartazes de internet e, sobretudo, as imagens políticas que colorem as manifestações globais, como aquelas contra a guerra do Iraque. Mas, para responder a essas perguntas, tive que recuar no tempo. Uma passagem obrigatória era maio de 68.
Na França aconteceu uma produção interessantíssima de cartazes políticos. Para apreender as representações do poder, tive de ir ainda mais longe: ao retrato de Luis XIV, que serviu de modelo de retrato político por séculos e ao maravilhoso “Las Meninas”, de Velásquez, no século XVII. Mas em nenhum momento tive a intenção de classificar essas formas dentro das categorias da História da Arte. Simplesmente não era essa a intenção. Apenas apontei alguns elementos que permanecem e alguns que se transformam ao longo da história. Em determinado momento, para facilitar o leitor, fiz, por exemplo, uma distinção entre “representações de poder” e “expressões de potência”. Mas de modo geral, desconfio das classificações: elas podem nos ajudar em determinado momento, mas tendem a se esgotar no tempo e erradicar outras produções de sentido. É muito importante não colocar “estética da multidão” como uma nova categoria da História da Arte. Seria um contra-senso. Essa estética não se encaixa em uma categoria: não é um estilo, mas sim processos em contínua transformação, quase que táticas de enfrentamento com forte expressão estética.
IHU On-Line – A multidão também tem como característica o enfrentamento do sistema vigente. Na arte, a multidão cria conflitos como este? Quais são estes conflitos?
Barbara Szaniecki – Sim, você tem toda razão de afirmar que a multidão tem como característica o enfrentamento do sistema vigente. A própria constituição da multidão se dá em suas lutas contra esse sistema. Ou seja, não existe uma multidão a priori, uma multidão dada, uma multidão predefinida. A sua definição se dá nas lutas contra toda forma de poder constituído. Aqui também reside uma particularidade: o poder constituído pode ser não apenas uma instituição “física” (um espaço determinado e os atores que dele fazem parte), mas todos os saberes, todos os discursos que nela e através dela circulam. No campo das Artes, destacaria como espaços os museus, as feiras e bienais, e destacaria como atores os artistas legitimados, os marchands e compradores. Por último, destacaria os críticos e curadores de Arte. Esses últimos são responsáveis pelos discursos que legitimam todo o resto. Coletivos podem travar conflitos com essas institucionalidade.
Não apenas no campo específico da Arte, mas também do Design, da Arquitetura etc., enfim, os movimentos sociais questionam os poderes constituídos, institucionalizados, que visam a preservar, a conservar a instituição na sua inércia. Negri denomina a potência desses movimentos de Poder constituinte, que é uma potência sempre em movimento, em transformação, em procura de novas respostas a seus problemas. As questões são tão variadas e numerosas quanto seus militantes. É importante frisar também que não há aqui nenhum juízo de valor: instituições não são necessariamente más, e movimentos não são necessariamente bonzinhos. Nenhum dos campos detém “a” verdade, a razão. Se há alguma razão, alguma verdade histórica, ela emerge do embate entre poderes constituídos e poderes constituintes daquele momento.
IHU On-Line – As particularidades permitem a criação de uma obra com as contribuições de cada um?
Barbara Szaniecki – Acredito que sim. Tenho observado isso nos casos que analisei mas, mais uma vez, é sempre importante ser prudente nas generalizações. Citei a construção das catedrais na Idade Média e as obras de Arte da Renascença. Em ambos os casos, cada um trazia o seu aporte. Recentemente, vi uma exposição maravilhosa de pinturas da Escola de Cusco, no Peru. Essas pinturas tinham como modelos as imagens religiosas que vinham da Espanha colonizadora. Mas lá no Peru eram índios e mestiços que realizavam esse ofício de pintor. Os modelos espanhóis eram “adaptados”, digamos assim, à cultura cusquenha, muitas vezes à revelia do mecenas. Os pintores introduziam nessas pinturas elementos de sua cultura.
Lembro-me de uma pintura na qual, além de um convencional São José marceneiro, a Virgem Maria preparava a lã exatamente como as índias locais, enquanto o menino Jesus brincava com aves típicas. Em outras pinturas, a apropriação dos códigos europeus era ainda mais radical: para se distinguir das comunidades indígenas subalternas, a elite inca de Cusco se fazia retratar usando exatamente os mesmos códigos que a realeza européia. Enfim, há na própria imagem, e no uso que se faz dela, todo um jogo político interessantíssimo. Poder e resistência ao poder se confrontam continuamente no interior dessas imagens e através dessas imagens no campo social. Enfim, o que eu queria dizer, para responder à pergunta, é que, mesmo nas situações mais extremas de exploração (aquela da colonização, por exemplo), a resistência, as singularidades culturais e individuais se manifestam. A Escola de Cusco é um exemplo de resistência do passado, em um suporte – a pintura – tido hoje como convencional, ou seja, adequado à tradição e não à experimentação. O exemplo acima mostra que isso não é verdade. Mesmo um suporte visto como convencional pode “suportar” as contribuições de cada um, nesse caso aquelas da cultura indígena e da cultura européia. Mesmo na pintura há um campo aberto à experimentação, ao confronto com o poder (nesse caso, com a imposição da cultura européia aos indígenas). Mesmo na pintura, a particularidade do pintor vai dialogar com as particularidades de sua cultura e de outras culturas. Todo “autor” dialoga com outros autores, e toda obra dialoga com outras obras. As particularidades se manifestam na relação com as alteridades. A criação supõe esse diálogo, mesmo que em conflito.
IHU On-Line – A imagem, agora, pode ser criada a partir de “vários conhecimentos comuns”?
Barbara Szaniecki – Parece-me que sempre foi assim, ou seja, sempre as imagens se constituíram através de “vários conhecimentos comuns”. Não sei se hoje, mais do que ontem, o terreno está mais propício. De certo modo, parece que sim, pelo menos nas democracias ocidentais. Mas essa abertura democratizante não é dada; ela deve ser conquistada a cada dia. Por exemplo, o meu campo de interesse não se limita ao campo da Arte, à medida que eu faço algo como um “cruzamento de campos”: design e comunicação em geral me interessam. Hoje no Brasil, temos uma televisão que produz imagens a rodo. Contudo, temos um cinema que continuamente cria novas possibilidades, lutando para que o modelo de imagem produzido pela telinha não seja hegemônico. Ou melhor, luta para que não haja modelo algum e para que a imagem seja terreno de contínua experimentação estética. Isso está em jogo hoje, aqui no Brasil, nesse discurso de uma televisão pública. A televisão pública não deve ser pensada como uma televisão estatal, do Estado, mas como uma televisão comum a todos. Haveria então um terreno para experimentação desses “vários conhecimentos comuns”. Deveríamos também pensar em museus comuns, abertos para essas imagens.
IHU On-Line – Negri e Hardt afirmam que a multidão trabalha em rede, coopera e debate em rede. A Arte também pode ser feita em rede? Se produzida desta maneira, quem é o proprietário desta arte?
Barbara Szaniecki – Como disse anteriormente, acredito que sempre se trabalhou em rede, coletivamente, ou seja, o trabalho sempre dependeu das redes sociais. O que aconteceu é que, por um lado, essas redes foram aos poucos se ampliando: antigamente, por exemplo, eram restritas à família. Muitos trabalhos eram realizados em ambiente familiar (ainda hoje, isso acontece). Aos poucos, a cooperação abriu-se para o círculo da vizinhança, para as parcerias no meio urbano. Hoje essas redes sociais são potencializadas por um instrumento fabuloso que é a internet, por isso é tão importante que ela se mantenha sem dono algum, livre. Afinal, podemos, por meio dela, realizar projetos comuns com pessoas do outro lado do mundo. Isso é válido para qualquer produção, artística ou não. Li, recentemente, um autor chamado Reinaldo Laddaga, que despertou questões muito interessantes, ao examinar projetos como o Vênus, Park Fiction e Vyborg. Projetos como esse têm forte expressão artística. Acredito, no entanto, que as intenções de seus atores, que são mais atores que autores, não se encaixam necessariamente nesse campo, “Arte”. Elas extrapolam todo e qualquer campo delimitado. Acredito que um caminho para se abordar essas experiências sociais é aquele de misturar sistematicamente referências dentro e fora do campo da Arte. Uma mistura teórica em consonância com o hibridismo dessas experimentações. No meu caso, trouxe para o campo estético as teorias de Foucault e de Negri para enriquecer a apreensão dessas cooperações estéticas. Entendo então que essas estéticas, ainda em processo, sem forma predefinida, não têm proprietário, muito pelo contrário: resistem a toda forma de captura, de “apropriação”. O que para mim não é um problema, mas sim um caminho para resistirmos à “apropriação” total que faz o capitalismo de nossas vidas hoje.
IHU On-Line – A arte sempre pareceu trazer algo de transcendente. Negri afirma que a transcendência não existe mais. A partir de eventos como a Bienal de Veneza, no qual se discute arte, é possível afirmar que a arte produzida pela multidão é uma forma imamente?
Barbara Szaniecki – Essa questão do conflito entre transcendência e imanência atravessa A estética da multidão. Usei a teoria de Hardt e Negri em Império para apreender alguns conflitos no campo estético. Digo estético por que não apenas extrapolo o campo da Arte, me interessando por imagens de todo tipo (não necessariamente artísticas), mas também pesquiso além do campo iconográfico, muita vezes enclausurado pelos poderes constituídos. Interessam-me as estéticas da pólis real e virtual: as ruas das cidades e a internet. A percepção que tenho é que manifestamos estéticamente os conflitos que atravessam o campo social, sendo o da transcendência x imanência o maior deles. Pois essas diferentes visões de mundo produzem e são produzidos por diferentes formas de organização social. Diferentes formas de organização produzem e são produzidas, por sua vez, por diferentes formas de imagens e estéticas. A transcendência da qual falam Negri e Hardt em Império é aquela das monarquias absolutistas européias. Esse modelo de governo aparentemente desapareceu, mas sobrevivem resquícios na sociedade e, evidentemente, na produção estética. O que não é de todo negativo não quer emitir um juízo de valor.
Negri e Hardt inovam trazendo esse conceito de Império, que se contrapõe ao imperialismo característico da modernidade européia. Imperialismo que causou enormes tragédias para a humanidade. A colonização é um exemplo. O que eles apontam são as possibilidades que esse Império traz. No Império, a multidão luta. Pois, mais uma vez, nada é dado, precisamos lutar pela democracia. No campo estético, o conflito também está em aberto: é necessário lutar pela pluralidade de imagens nas academias, nos museus, nos cinemas, na televisão etc. Lutar pela democratização dos discursos visuais e verbais e lutar pela abertura à multidão dos dispositivos tecnológicos que hoje existem. Essa é a imanência. No final do meu livro pergunto (e deixo em aberto) se o evento é a forma da imanência. Foi um modo que encontrei de formular a minha inquietação naquele momento. Mas a própria formulação é problemática, pois o evento não tem forma, a imanência não tem forma predefinida. De modo que precisamos encontrar não apenas os problemas, mas o próprio léxico para abordar a contemporaneidade, isto é, as palavras adequadas para entender o que de novo hoje está acontecendo. É isso que estou procurando…
FONTE: IHU Online